Ano: 1690
Caminho da Bahia
Em “Caminhos e Fronteiras”, Sergio Buarque de Holanda busca desconstruir o mito do sertanista heroico, rico e bem apessoado, fomentado por algumas narrativas que, ao longo dos últimos séculos, terminaram por idealizar a figura dos bandeirantes. Para isso, Holanda descreve os caminhos e as jornadas empreendidas pelos sertões adentro, considerando os hábitos, objetos, rotinas e formas de vestir e caminhar de sertanistas e indígenas.
Dessa forma, confrontando aspectos objetivos e subjetivos do ser sertanejo e de viver em um território quase desconhecido, Sergio Buarque de Holanda destaca o papel de homens de origem muitas vezes simples e iletrados, como os bandeirantes. Porém, revela também a importância dos indígenas nativos no conhecimento do território e na abertura dos caminhos.
A história dessas rotas e trajetos, que foram sendo abertos com o conhecimento cada vez mais amplo do território, certamente levou ao desenho de caminhos que foram oficializados pelos colonizadores durante o auge da mineração. Por esses caminhos, deveria ser transportado o ouro e coletados os impostos, a fim de evitar o extravio, o roubo e o contrabando dos metais preciosos (Ver marco Estrada Real e os caminhos do ouro).
Com o desenvolvimento dos sistemas de transporte e, em consequência, das ferrovias e rodovias, as “primitivas” picadas abertas por indígenas e exploradas por bandeirantes e colonizadores transformaram-se em uma complexa rede de vias por grande parte do país.
Um dos pontos de partida para se pensar essa história foi a descoberta das minas. A partir de fins do século XVII, deu-se um passo importante para a abertura de novos caminhos capazes de conectar zonas anteriormente apartadas do território brasileiro. Através das migrações, consolidaram-se caminhos desde as províncias do Nordeste até a Região Sudeste. A corrida do ouro possibilitou a abertura de novas rotas de ligação entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, principal canal de escoamento dos metais ao longo do século XVIII.
Com o aumento das populações e a necessidade de suprimentos, os animais de carga, como equinos e muares, foram comercializados desde as províncias do Sul, sobretudo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, incrementando a atividade dos tropeiros no transporte de cargas e no comércio de produtos.
Mas essa história de caminhos, descaminhos e desenvolvimento parece ter uma origem, e ela se encontra numa rota que, mesmo antes da descoberta das minas, ligava a capital da colônia, Salvador, à região do que hoje é o norte de Minas Gerais, seguindo, em grande medida, o traçado do Rio São Francisco e dos seus afluentes.
Trata-se do chamado Caminho ou Estrada da Bahia, rota que pode ser denominada Caminho dos Currais, Geral do Sertão ou Caminho de São Francisco, além de outros pseudônimos. Por esse caminho, igual aos outros que ligavam as várias regiões das minas com as províncias, transitavam não só as pessoas e suas ideias, mas também eram transportados diversos tipos de produtos, desde metais preciosos e a produção agrícola interna da Capitania, a artigos vindos do Reino, gado e escravos (SCARATO, 2009).
A utilização dessa rota, cujo traçado havia sido desenhado através de picadas anteriormente abertas por indígenas, já acontecia em grande escala durante as primeiras décadas da colonização. Mas sua consolidação seria consequência, principalmente, das explorações promovidas pelos bandeirantes. Com o propósito de explorar os sertões do território e apresar indígenas para sua escravização, eles se aproveitaram desses caminhos para consolidar rotas que, posteriormente, se oficializaram e passaram a ser os caminhos pelos quais se escoavam produtos, ouro e diamantes, bem como escravos importados pelas províncias do sudeste (SCARATO, 2009, p. 42).
Sobre o caminho em questão, vale ressaltar que, igual aos outros que compuseram o mapa das rotas durante o Brasil Colônia, não existe um consenso na historiografia e nos documentos sobre quem teria sido seu fundador ou quando exatamente ele teria se consolidado como uma via entre Bahia e Minas Gerais.
Luciane Cristina Scarato adota a versão de que Matias Cardoso teria sido um dos principais responsáveis pela abertura desse caminho, em um período anterior à descoberta do ouro no sertão do Rio das Velhas (SCARATO, 2009, p. 42). Escreve a historiadora: “Em 1690, esse bandeirante fundou um arraial às margens do Rio Verde, local base para as expedições contra os índios que assaltavam as fazendas no sertão da Bahia e nas Capitanias nordestinas” (2009, p. 42). Esse teria sido, portanto, um dos marcos para a consolidação do caminho.
Matias (ou Mathias) Cardoso de Almeida foi um bandeirante paulista que comandou, na segunda metade do século XVII, uma expedição até as fronteiras entre os atuais estados de Minas Gerais e Bahia, conduzindo um grupo com mais de 100 homens, dentre eles escravos negros africanos e indígenas.
A intenção dessa expedição era reprimir e apresar grupos indígenas que, desde a década de 1650, ingressaram na região e se aliaram a negros aquilombados. Além disso, a intenção era exterminar os quilombos, cuja existência era considerada uma ameaça aos produtores de cana de açúcar e aos criadores de gado (IBGE, s/d).
Segundo o catálogo do IBGE, Matias Cardoso se estabeleceu na região do Rio Verde Grande por volta de 1660, fundando arraiais e algumas fazendas, como o Arraial do Meio, também conhecido como Arraial de Matias Cardoso, e a Fazenda Jaíba, de Antônio Gonçalves Figueira, às margens do Rio das Rãs.
As primeiras “fundações” desses bandeirantes, no entanto, foram afetadas pelas condições naturais adversas da região, como inundações e insalubridades da área. Fundaram, então, arraiais às margens do Rio São Francisco, um povoamento chamado “Morrinhos”, cuja consolidação e crescimento deu origem à atual cidade de Matias Cardoso, localizada na divisa entre os dois estados, Minas Gerais e Bahia. Cabe lembrar que, na época, essa região pertencia à Capitania da Bahia (IBGE, s/d).
Na região, os bandeirantes criaram uma sociedade pastoril, dedicada à produção de gêneros alimentícios e à criação de gado, comercializados com a cidade de Salvador. Dessa rota de comércio, surgiu uma via de ligação entre os dois pontos, que passou a fazer parte dos caminhos do sertão ou caminhos da Bahia (IBGE, s/d).
Nota-se que existe um conflito entre a datação dada por Scarato e pelo levantamento do IBGE. Existem diferenças entre chegar até uma determinada região e ali fundar arraiais, consolidando propriedades e povoamentos, o que certamente implica num processo de média e longa duração.
A fim de se atribuir uma datação para este marco na Linha do Tempo, será utilizada a versão de Scarato, ou seja, 1690, por aproximar-se do período em que o ouro é descoberto na região das minas (ver A descoberta das minas e do ouro). Essa datação, porém, não é precisa, visto que a construção originária desse caminho e de seus “descaminhos” faz parte de um processo anterior, provavelmente iniciado pelos indígenas nativos da região e aperfeiçoado durante o período da colonização.
Foi naquele local, entre as atuais fronteiras de Minas Gerais e Bahia, que se começou a desenhar a primeira e, até a construção do Caminho Novo, consolidada em 1701, a principal rota de ligação entre a cidade de Salvador, então sede do governo real, e a região das minas (ver tópico Estrada Real e os caminhos do ouro).
Importante comentar que, provavelmente, o que se convencionou chamar de “Caminho da Bahia” teve muitas rotas e trajetos diferentes, explorados por indígenas nativos, negros aquilombados, bandeirantes e todo tipo de viajante que caminhasse ou trafegasse em seus animais e carros de bois por aquela região.
É preciso ter em mente que, naquela época, desenhar o traçado de um caminho ou de uma rota não era tarefa fácil, visto que se abriram várias picadas que cruzavam o trajeto principal e podiam se desdobrar em alternativas para levar os homens e mulheres até seus destinos.
Ainda a propósito do traçado e da consolidação do Caminho da Bahia, a pesquisadora Luciane Scarato afirma que o ponto de partida da rota era Salvador, passando por Cachoeira, Santo Antônio de João Amaro e Tranqueira (esta última região já quase às margens do Rio de Contas). A partir deste ponto, o caminho se dividia.
“À direita, ficavam os currais do Filgueira, de Antônio Vieira de Lima, e o arraial de Matias Cardoso, até atingir o Rio das Velhas. Seguindo à esquerda de Tranqueira, o viajante podia pegar o caminho de João Gonçalves do Prado até a nascente do Rio Verde. Daí, até o campo da Garça, ao arraial do Borba e a barra do Rio das Velhas” (SCARATO, 2009, p. 43-44).
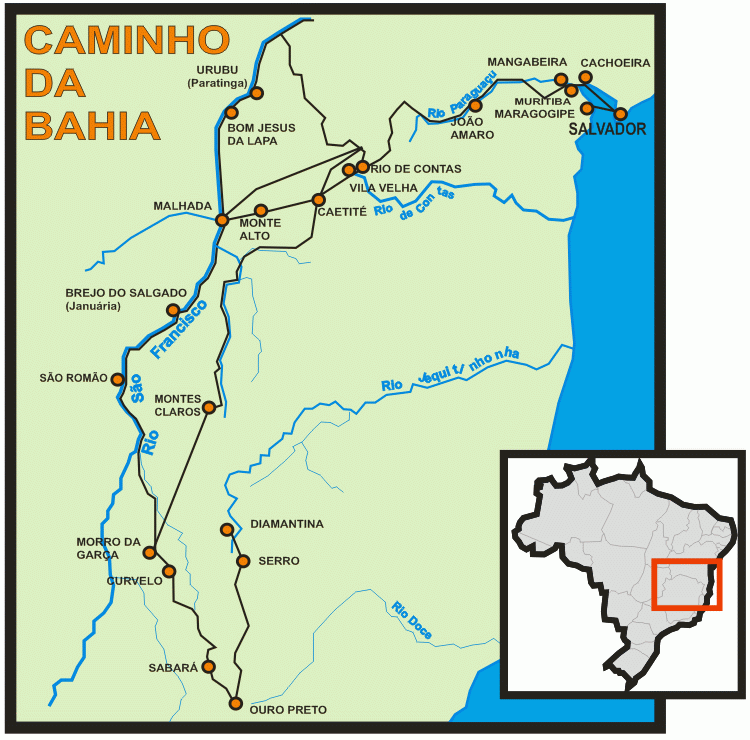
Caminho da Bahia
Fonte: Wikipedia
Sobre as condições desse percurso, a historiadora Maria Odila Leite da Silva salienta que o caminho convergente ao arraial de Matias Cardoso era “mais suave e mais habitado que o caminho novo para o Rio de Janeiro” (DA SILVA, 2002, p. 47). Seguindo o percurso do Rio São Francisco, o Caminho da Bahia possuía água em abundância, além de oferecer aos viajantes carnes, farinha de qualidade, cavalos, pastos e casas para o repouso entre uma jornada e outra (idem, ibidem).
Heloisa Starling, que também estudou os caminhos das minas, corrobora essa visão (2004, p. 28). Ao descrever o caminho em questão, ressalta sua importância como rota de ligação entre as fazendas de gado que margeavam o vale do Rio das Velhas e o já citado São Francisco até o Porto de Salvador. As informações atestam que, por essa rota, os viajantes podiam se deslocar sem grandes percalços geográficos e com pastagens adequadas assentadas pelo já frequente deslocamento do gado, apesar da longa distância.
“Estrada mais aberta e larga, terreno plano adequado para o deslocamento dos cavalos de montaria e das tropas de burros de carga, alimentação fácil principalmente no que se refere à caça dos veados, perdizes, jacus, jacutingas, capas, capivaras gordas – as magras provocavam diarreia – peixes, frutas e, é claro, leite”. (STARLING, 2004, p. 28).
Ainda segundo Starling, as narrativas do Brasil colonial mostram que a existência desse caminho pode ter precipitado a descoberta – ou as descobertas, visto que o achamento dos metais aconteceu de forma simultânea em diferentes pontos da província – do ouro (idem, p. 28).
Apesar de oferecer facilidades ao trânsito, o Caminho da Bahia sempre foi considerado um motivo de preocupação para a Coroa e para os administradores na colônia. Rota de indígenas e negros africanos que fugiam da escravidão e do apresamento, por ela se desdobravam vários outros caminhos paralelos. Entroncamentos, picadas e trilhas escondidas, que se apresentavam como potenciais rotas de fugas e de contrabandos. A maioria desses atalhos era utilizada para fugir da escravidão e burlar o controle fiscal da Coroa, aplicado ao transporte de produtos e de escravos.
Depois da descoberta do ouro, as fugas e o contrabando pela Estrada da Bahia tornaram-se ainda mais frequentes. Por essa razão, o caminho passou a ser proibido em 1702, exceto para a circulação de gado (SCARATO, 2009, p. 44).
É interessante notar que a palavra “descaminho” não tem, necessariamente, o sentido de rotas geográficas alternativas ou caminhos que burlavam as estradas oficiais. Em geral, seu emprego pela historiografia sobre o período busca significar o contrabando e as práticas ilícitas de comercialização de produtos, escravos e, principalmente, ouro.
Recuperando o significado dado ao termo pelo Dicionário de História de Portugal, Paulo Cavalcante Junior explica que descaminho é “sonegação de tributo (ou direitos fiscais) daquilo que lhe estava sujeito” (JUNIOR, 2007, p. 17). A dimensão do contrabando e das vias pelos quais ele se praticava era bastante extensa, daí o historiador ressaltar que, apesar da relutância da documentação oficial em admitir a extensão da prática, os descaminhos eram parte constitutiva do sistema colonial.
“São dois mundos em um, como é peculiar à dinâmica sistêmica colonial. […] entre o caminho e o descaminho, entre o lícito e o ilícito, entre uma sociedade estamental e sua respectiva subordem de castas, opera-se a construção da América” (JUNIOR, 2007, p. 17).
Escapando ao controle da administração, essas práticas são vistas como formativas do sistema interno por Fernando Novaes (2007). Assim, as “ilicitudes” eram um fator estruturante de forte impacto na sociedade colonial brasileira e de todo o Império português.
Em contraposição às concessões formais dadas pela metrópole para a comercialização de produtos e escravos na colônia, o contrabando foi interpretado por Novaes como uma espécie de extensão do sistema econômico exclusivista.
Dessa forma, ele não chega a se apresentar como uma autêntica concorrência ao exclusivismo, visto que sua prática abranda o sistema, mas não o suprime. Sua existência vincula-se muito mais na esfera de um fenômeno de disputa entre as vantagens da exploração colonial, “relações da economia central europeia com as economias coloniais periféricas” (NOVAES, 2007, p. 55).
Por isso, muitas vezes o contrabando e os descaminhos se apresentam como alternativas para um sistema econômico marginal. Durante os períodos em que os produtos vindos da Europa sofriam altas nos preços, como aconteceu em vários momentos durante a mineração, as ilicitudes certamente foram uma via para que comunidades inteiras sobrevivessem à escassez e conseguissem acesso a produtos e suprimentos básicos para a sua subsistência.
Em 1711, a proibição do comércio de negros escravizados pelo Caminho da Bahia (ou dos Currais, conforme veremos na citação a seguir) foi revogada pela administração colonial. Apesar das tentativas de controle do tráfego e da abertura de novos caminhos, a rota entre Salvador e o norte de Minas Gerais nunca deixou de ser utilizada, mesmo proibida.
Sobre o tema, o governador da Capitania de Minas Gerais, de 1721 a 1732, Dom Lourenço de Almeida, escreveu, em 1724, ao alferes Nuno de Miranda: “Porquanto pelo Caminho dos Currais que vai para a Bahia e Pernambuco se desencaminha muito ouro aos reais quintos, levando-o em pó ou em barra sem ser marcada na forma que S. Maj. manda pela sua real lei […] é preciso que por todas as diligências se evite a extração deste ouro […] confiscando-se todos os mais bens que se apanharem aos transgressores […]” (extraído de SCARATO, 2009, p. 44).
Apesar da proibição do trânsito pelo Caminho da Bahia, uma das principais funções desse trajeto era o deslocamento dos negros africanos escravizados importados pelas províncias do Sudeste. Depois da descoberta do ouro e dos diamantes, a demanda pela mão de obra escrava cresceu vertiginosamente. Além disso, não só os escravos, mas também homens livres corriam aos montes para a região onde a promessa do enriquecimento com o ouro se tornava cada vez mais próxima de se realizar.
O grande fluxo de pessoas para as minas, bem como as sucessivas crises de fome e abastecimento, impôs obstáculos ao desenvolvimento da economia colonial. Encontrar uma solução que permitisse o fluxo de mercadorias nas regiões de novo povoamento das minas e evitasse o contrabando de ouro e diamantes era uma equação difícil para a administração local.
Os sucessivos fechamentos e aberturas do Caminho da Bahia, ocorridos nas primeiras décadas do século XVIII, revelam mais que apenas a tentativa de proibir os descaminhos. Havia razões políticas especificas e contendas entre as províncias para abrir caminhos pelos quais transitasse o ouro, a fim de fomentar negócios e comércios dentro de suas próprias regiões geográficas.
Pollyana Precioso Neves defende que “se sob a óptica da Coroa era necessário proteger a região das Minas, era também urgente preocupar-se com a falta de mão-de-obra e de produtos coloniais caso houvesse migração em massa para a extração do ouro” (2015, p. 36). Tais necessidades suscitaram as disputas sobre qual seria a melhor região para abastecer as Minas: São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia ou Espírito Santo. Nesse sentido, o fechamento do caminho até Salvador obviamente afetaria de forma negativa aquela praça, enquanto a abertura de novos caminhos para São Paulo e Rio de Janeiro evidentemente fomentaria o comércio nestas províncias.
A historiadora acrescenta que, na primeira década do século XVIII, Minas contava com três vias de acesso mais costumeiramente utilizadas, que partiam de distintas localidades; logo, de três mercados abastecedores em potencial. Descartadas as picadas e entradas clandestinas, pode-se afirmar que a primeira via partia da “Bahia, do Maranhão e de Pernambuco – a nossa via em questão –, outra de São Paulo, o chamado Caminho Velho, e a terceira, tendo sido gestada nas décadas iniciais dos Setecentos, era o Caminho Novo, que partia do Rio de Janeiro” (NEVES, 2015, p. 79).
A existência de uma complexa rede de fluxo migratório e comercialização de escravos e produtos revela que a abertura, o fechamento e a proibição de caminhos se desdobravam em políticas econômicas especificas, voltadas ao desenvolvimento de determinadas regiões, em detrimento de outras.
Para ilustrar a questão, Neves recupera a contenda entre Artur de Sá e Menezes, governador da Capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas (1697-1702), e Dom João de Lencastre, governador-geral (1694-1702) sediado em Salvador.
Menezes propôs uma política de “portas abertas” com o intuito de contornar a crise de fome e abastecimento. Já Lencastre, propôs a abertura de um caminho até o litoral do Espírito Santo, ficando a região norte de minas sob a jurisdição da Bahia. “Este último visava não só deixar nas mãos dos comerciantes baianos o abastecimento das Minas, como também colher os louros que a extração aurífera proporcionaria, respaldando as fábricas de açúcar e tabaco. Tratava-se de questões não só econômicas, mas, principalmente, políticas” (NEVES, 2015, p. 36).
Ao fim, a proposta do governador-geral não vingou, tendo o Caminho da Bahia sido “proibido” (as aspas conotam o fato de que o caminho nunca deixou de ser usado) a partir de 1702. Mas o caso é emblemático sobre um período em que o controle dos contrabandos e do fluxo populacional que imigrava até as minas não era a única preocupação dos governadores. Lucrar com potenciais novos mercados e controlar a arrecadação fiscal sobre o ouro explorado e comercializado eram os principais intentos dos governadores, provocando disputas entre interesses locais.
A concorrência com o Caminho Novo se faria sentir, segundo Maria Odila Leite da Silva Dias, após 1725, época em que os controles fiscais da Coroa se tornaram mais organizados e presentes na vida dos mineradores (2002, p. 47). O Caminho Novo ainda representava uma rota mais curta desde o Rio de Janeiro até a região das minas, o que “veio a ter um papel importante no deslocamento do eixo econômico e do povoamento para o sul” (Idem, p. 48).
Maria Odila destaca ainda que, em 1720, o acesso às minas pelo Rio São Francisco foi encurtado pelas autoridades, a fim de controlar os desvios do ouro e do contrabando. A abertura de uma nova estrada, construída então por Antonio Gonçalves Filgueira, um dos primeiros paulistas a chegar na região, fez parte do empreendimento.
A comercialização de escravos nessa rota também era motivo de preocupação da Coroa. Os escravos das minas vinham de Pernambuco, mas principalmente da Bahia e do Rio de Janeiro. Em 1736, a população de escravos dessa região já chegava a cerca de 80 mil, o que indicava uma desproporção entre negros e brancos. “Esse desequilíbrio de população, mais a densidade de escravos concentrados em torno das datas de exploração do ouro, definiria os costumes e o ritmo das relações sociais. Três quartos de escravos para uma minoria de um terço de homens brancos demarcaria o círculo de inter-relações em torno ao qual se desenhariam os costumes e as tensões da vida quotidiana” (DA SILVA, 2002, p .49).
A crescente demanda por mão de obra escrava no Sudeste poderia deixar desabastecidas as fazendas de açúcar no Nordeste brasileiro. Assim, as sucessivas ordens de proibição do Caminho da Bahia e o controle do fluxo migratório, bem como das remessas de escravos comercializados entre as regiões, foram medidas que buscaram contornar esse desequilíbrio.
A abertura de novos caminhos e o escoamento do ouro pelos portos do Rio de Janeiro estabeleceram um novo centro econômico e político na colônia. A consolidação desse processo aconteceu em 1763, quando D. José I (1714-1777), sucessor de D. João V (1689-1750), determinou a transferência da capital do poder metropolitano da cidade de Salvador para São Sebastião do Rio de Janeiro.
Apesar da abertura de novos caminhos e da expansão da malha terrestre no Brasil Colônia, principalmente no período da economia aurífera, o Caminho da Bahia nunca perdeu suas funções principais. Foi uma rota de intensos fluxos populacionais, de mercadorias, de contrabandos e fugas. Teve papel relevante na formação da sociedade em torno das minas, como rota de homens e mulheres que corriam em busca de enriquecimento. Marcou tempos em que os bandeirantes buscavam ainda controlar as rebeliões e fugas de indígenas e negros escravizados.
Com o passar do tempo, a região transformou-se e foi afetada pela crise do ouro e pelas mudanças provocadas pelo crescimento das lavouras de café e da expansão das ferrovias e rodovias na segunda metade do século XIX.
Referências Bibliográficas:
DIAS, Maria Odila Leite da Silva. “Nos sertões do Rio das Velhas e das Gerais: vida social numa frente de povoamento, 1710-1733”. In: FURTADO, JF., org., FERREIRA, GF. Erário mineral [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002, p. 45-106.
HOLANDA, Sergio Buarque de. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Cia. das Letras, 1994.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). “Matias Cardoso”. Catálogo de Municípios. Id: 1829. Código do Município: 3140852.
JUNIOR, Paulo Cavalcante de Oliveira. Negócios de Trapaça: caminhos e descaminhos na América Portuguesa (1700-1750). Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2007.
ZEMELLA, Mafalda P. O abastecimento da Capitania das Minas Gerais no século XVIII. Editora HUCITEC, 1990.
NEVES, Pollyanna Precioso. Entre os caminhos e descaminhos da estrada proibida do sertão da Bahia: a Superintendência do Rio das Velhas e o abastecimento das minas nos primeiros anos de exploração aurífera (1701 – 1716). Dissertação (Mestrado em História) – Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Ouro Preto, Mariana, 2015, 165 f.
NOVAIS, Fernando. Estrutura e dinâmica do Antigo Sistema Colonial (séculos XVI – XVIII). São Paulo: Brasiliense, 2007, 7.ed.
SCARATO, Luciane Cristina. Caminhos e descaminhos do ouro nas Minas Gerais: administração, territorialidade e cotidiano. 2009. 303 p. Dissertação (mestrado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Campinas, SP.
